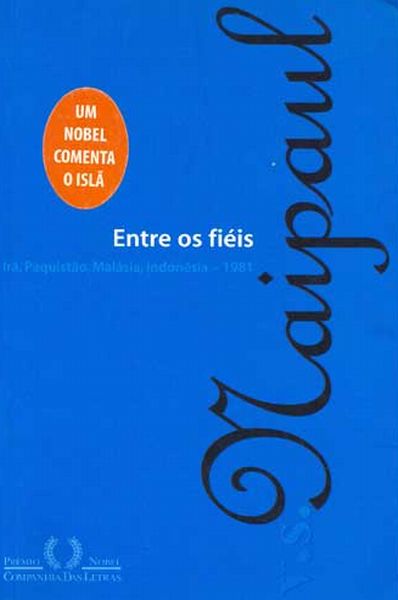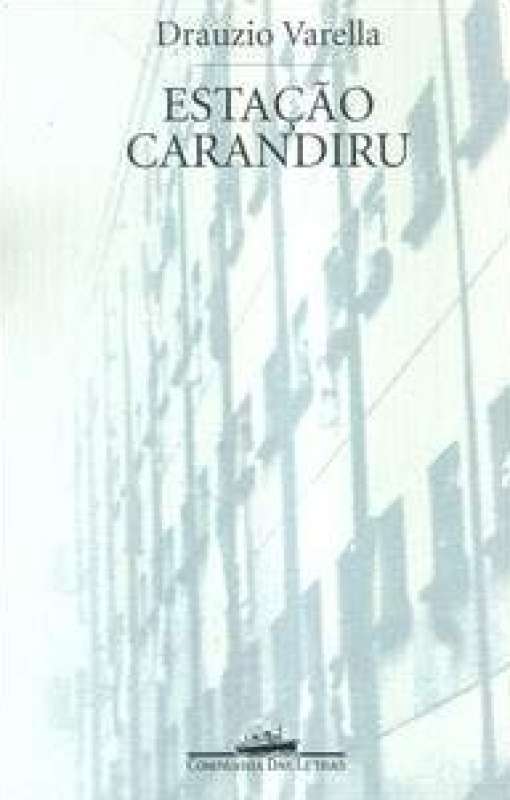19.10.22
Hércules e Cristo: paralelos
12.10.22
O surgimento da grande chatice
13.9.22
Jesus, o pensamento grego e o envelhecimento
7.8.22
Teresa Filósofa, anônimo do século XVIII
2.8.22
Causas do apelo juvenil da mitologia nórdica
Ao contrário da mitologia grega, essa coisa vaga e amoral por isso mais do gosto dos velhos, a mitologia nórdica: 1) postula um fim do mundo, e os jovens precisam muito temer e ansiar um fim do mundo, venha ele num Apocalipse cristão ou num Ragnarok viking; 2) o mundo não apenas acabará, mas também recomeçará de novo, dessa vez regenerado: como competir, pela atenção dos jovens, com um céu não cristão?; 3) melhor do que o fim do mundo e a sua regeneração, é a maneira como esse fim se dará: uma guerra final do Bem contra o Mal, e os jovens topam qualquer negócio que lhes dê o sentimento de participar de uma guerra contra o Mal, seja ele que Mal for; por último, mas não menos importante, 4) o sentido fashion dos aesir, cheios de visuais marcantes: realmente não há jovem que resista a um deus caolho, de barba enorme, chapelão, dois corvos sobre os ombros, ladeado por dois lobos, nem a outro que tem um cinturão, uma luva e um martelo mágicos — todos elementos que cumprem perfeitamente os requisitos cinematográficos de um super-herói ao gosto dos americanos, que não por acaso são anglo-saxões e herdeiros desse negócio todo.
O trinitário-tobagense que não gostava de que não gostassem dos ingleses
Naipaul é um observador atencioso e um narrador cheio de qualidades. Mas escreve de um lugar deplorável: o lugar do colonizado (no caso dele, indiano nascido em Trinidad e Tobago, colonizado duplamente) que vai para a Inglaterra e de lá critica todos os que não fazem o mesmo, ainda que apenas intelectualmente, sem a mudança geográfica. Nesse livro de viagens (li com muito interesse a viagem ao Irã, com interesse um pouco menor a viagem ao Paquistão, e cheguei já sem interesse algum à Malásia, onde o deixei), viagens feitas no início dos anos 80, apesar das ótimas notícias que Naipaul oferece da vida nos países visitados e de seus graves dilemas históricos — a revolução islâmica x o ocidentalismo do xá; hindus x muçulmanos; o xiismo duodecimano; etc.) —, a leitura acaba se tornando cansativa à medida que se percebe o mesmo juízo por trás dos episódios: “Eles odeiam a maneira como o Ocidente vive e pensa, mas lutam contra ele com as armas que o próprio Ocidente oferece”. Percebido esse fio, torna-se bem difícil continuar a leitura de mais trezentas páginas de exemplos que ilustram essa constatação.
28.6.22
É isto um homem?, de Primo Levi
A história dos homens é, desde que passaram a deixar registros, uma história feita de violências atrozes, com muita frequência contra velhos, mulheres e crianças.
24.6.22
Estação Carandiru, de Drauzio Varella
Com suas infinitas possibilidades, a vida é um quebra-cabeça insolúvel, sempre mais confuso, mais perturbador do que gostaríamos que fosse. São muitos os que, diante da vida, não fazem mais do que ignorar tudo que não diga respeito a sua mínima parte.
22.6.22
Gaslighting medieval
Uma das formas atuais de progresso consiste na invenção de palavras inglesas para velhos problemas e a subsequente adoção dessa mesma palavra inglesa pelo mundo inteiro. Se isso não garante por si só a resolução do problema, ao menos é o primeiro passo para alcançá-la, uma vez que junto com a palavra criada pelos americanos espera-se que venha também a solução proposta por eles. O maior exemplo do que digo é a palavra bullying, relativamente recente em nosso vocabulário, mas sem a qual já ninguém consegue falar da infância. Os casos, porém, são incontáveis. A última palavra desse tipo que descobri foi gaslighting, que significa o ato de manipular uma pessoa garantindo que as coisas que ela viu e ouviu em momento algum aconteceram, até que ela se convença da própria insanidade. Coincidência ou não, todas as vezes que vi essa palavra utilizada ela estava no contexto de abuso psicológico praticado por homens contra mulheres, nunca — que eu tenha visto — o contrário. E essa circunstância me fez lembrar que o caso mais grave de gaslighting já registrado na história foi precisamente o de uma esposa contra seu marido. A história quem a conta é Boccaccio, no Decameron, onde aparecem muitos outros casos menores dessa natureza, vários deles contra o pobre Calandrino, mas nenhum comparável ao que fez Lídia contra seu marido Nicostrato. Conforme narrado por Dioneu na Nona Novela da Sétima Jornada, Lídia simplesmente transou com o amante na frente do marido, que logo a seguir foi convencido por ela, muito ofendida pela mera suspeita do marido, de que nada do que ele tinha visto aconteceu. Lídia e Pirro não haviam transado na frente de Nicostrato. Nicostrato é que estava doido.
17.6.22
Malaparte, uma Sherazade dos crimes de guerra
Kaputt é, a rigor, não um testemunho, tampouco uma denúncia, mas antes a recordação minuciosa das cores, dos sons e dos odores da guerra alemã (céus verdes, sons doces, cheiros gordos). É também uma dolorosa elegia para o velho mundo da guerra de proporções humanas, feita a cavalo, com espada e tiro de espingarda, mundo morto pelos tanques e bombardeios aéreos da guerra mecanizada, tão destruidora. Como um dândi da catástrofe, como um flâneur de campos arrasados de batalha, o interesse de Malaparte num massacre estava sempre menos no sofrimento das vítimas do que no requinte inesperado de um carrasco. Era nessa contraposição muito sutil, sempre irônica, quase ambígua, da hiper-educação com a crueldade mais atroz que residia aquilo que se poderia chamar de crítica: filho de um protestante alemão com uma católica italiana, Kurt Suckert parece ter nascido para a ambiguidade, a ponto de eventualmente trair certa satisfação com aquilo que com sinceridade repudia. Em termos literários, Malaparte é como um Proust (a comparação é ele mesmo quem sugere) que, em vez de reuniões com madames, descreve jantares com criminosos de guerra e que, em lugar de vestidos, relembra com pormenor a destruição.
20.5.22
A oficina de Stendhal
2.4.22
Marxismo e religião
O princípio fundamental da historiografia marxista da religião: a maneira correta de estudar as religiões, a única maneira científica de o fazer, é a partir das relações sociais em meio às quais as religiões nasceram. Para o pensamento marxista, as crenças religiosas são apenas uma projeção dos anseios causados pelas condições materiais dos povos. Assim — implicação mais controversa desse princípio —, os homens só puderam chegar a acreditar na existência de um único Deus no céu a partir do momento em que passaram a ter um único Senhor sobre a terra. Ou, em outras palavras, não houve religião enquanto não existiu divisão de classes. Mas não é que a religião tenha nascido como uma falsidade promovida pelas elites para o apaziguamento dos pobres — ao contrário, para o marxismo toda religião é verdadeira ao menos na medida em que reflete as aflições reais das classes subalternas, por mais instrumentalizada que venha a se tornar depois. A incompatibilidade do marxismo com a religião, portanto, decorre do fato de a religião projetar para a outra vida — a paz no céu, no nirvana — aquilo que o marxismo quer alcançar ainda nesta. Ora, se o marxismo acredita que só existe religião porque um dia passamos a viver divididos entre senhores e escravos, a consequência é achar que, no dia em que a igualdade entre os homens for alcançada, a vida finalmente se tornará aquilo que a religião sempre projetou para a morte.