Essa descoberta eletriza o narrador que passa, então, a observar a vida verdadeira, a vida real que acontece quando homens e mulheres se trancam e não são mais vistos nem ouvidos.
Apesar de francês, o livro não se resume apenas ao erotismo fetichista. Pelo contrário. Nessas longas e intermináveis sessões de observação, o narrador testemunha não apenas encontros amorosos clandestinos, mas também conversas literárias, reflexões filosóficas, discussões científicas, angústias existenciais.
De igual modo, o livro também é uma grande investigação sobre a natureza do romance, isto é, a relação do romancista com a vida. Porque há uma identificação muito evidente entre esse narrador que abdica da vida para observar a intimidade alheia e o romancista. Inclusive, ao relatar suas visões esse narrador se transforma, automaticamente, no velho narrador tradicional, onisciente, que nos conta tudo que vê e tudo que ouve, e que no geral não sabemos como conseguiu ver e ouvir tudo.
Para esse narrador, o ponto de vista do romancista é o ponto de vista divino, de quem olha desde fora, do alto. Mas que, como o Deus cristão que se encarna para sofrer o sofrimento dos homens, participa sofrendo com cada sofrimento e se alegrando com cada alegria testemunhados.
O romancista abre mão de viver a sua falsa vida pública para contemplar/viver a vida verdadeira, íntima, secreta, daqueles a que observa.






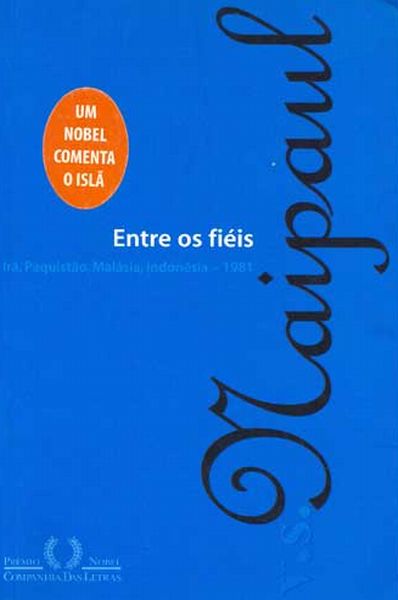

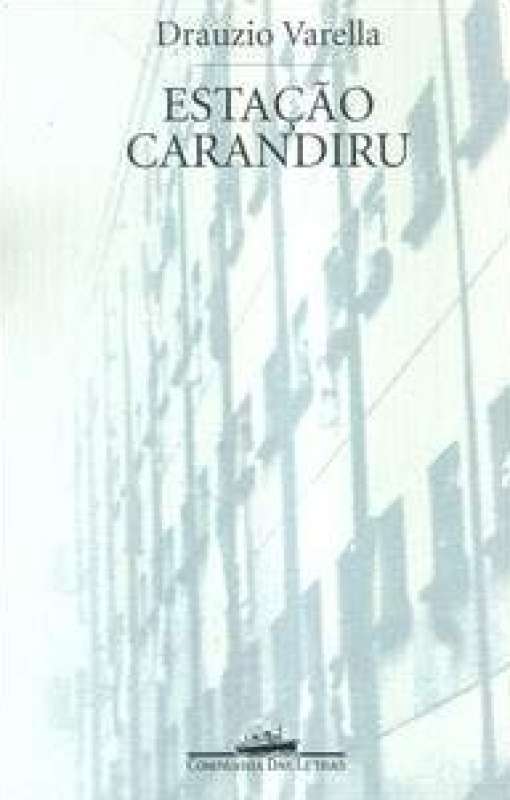


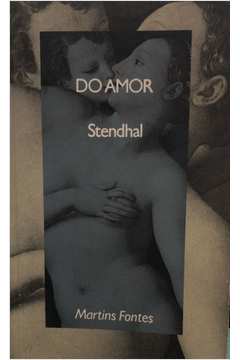





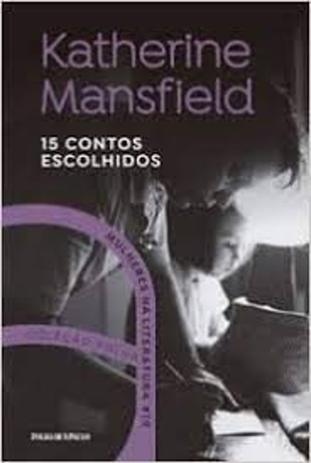



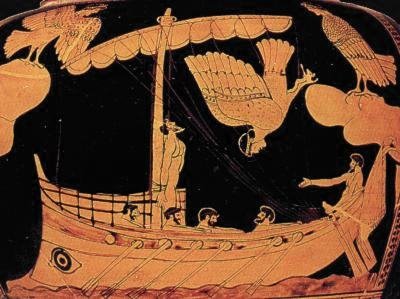



.jpg)

